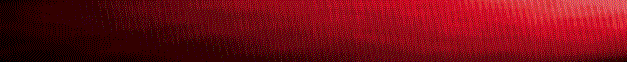Por Marcelo Alves
Por esses dias, muito se falou da “epidemia das bets” no Brasil. Não precisava ser dos mais atentos para notar que havia/há algo de podre no reino… do Brasil. São tantas bets na TV e patrocinando times de futebol que já não sabemos mais quem é quem. Jogadores estão envolvidos em apostas. “Influenciadores” e artistas metidos em lavagem de dinheiro e outros crimes. Gente presa. Tem um tal do “Tigrinho”. E, claro, amigos ou conhecidos perdendo o que têm; outros, o que nem têm. A epidemia, para a qual ainda não temos a vacina, adoeceu/viciou muitíssima gente.
Os números, que colhi de uma matéria da Deutsche Welle, são estarrecedores: “Um estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), em parceria com a AGP Pesquisas, mostrou que 63% de quem aposta no país teve parte da renda comprometida com as bets. Outros 19% pararam de fazer compras no mercado e 11% não gastaram com saúde e medicamentos. Esses dados refletem uma tendência preocupante, evidenciada ainda mais por um relatório divulgado pelo Banco Central nesta terça-feira (24/09), que revelou que beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em sites de apostas esportivas, somente no mês de agosto. O valor equivale a 21,2% dos recursos distribuídos pelo programa no mesmo mês. Ainda segundo o banco, 24 milhões de brasileiros fizeram ao menos uma transferência deste tipo no país desde janeiro. A maioria dos apostadores tem entre 20 e 30 anos e gasta cerca de R$ 100 por aposta. Este valor sobe de acordo com a idade. Brasileiros acima de 60 anos gastam uma média de R$ 3 mil reais em bets”.
Quando gozava dos meus 20 anos, eu ainda arriscava apostas no futebol. ABC x América. Presencialmente, no estádio. Coisa pouca e o meu ABC não decepcionava. Mas essa onda não durou muito. Por temperamento sou econômico. Para além disso, um livro teve forte influência em mim: “O jogador” (1867) de Dostoiévski (1821-1881). Escrito para que o autor pagasse suas próprias dívidas de jogo, é uma pequena obra-prima, parcialmente autobiográfico, de quem entendia bem – ou mal, a depender do ângulo – de jogos e apostas.
A trama de “O jogador” gira em torno de Alexei Ivanovich, que, apaixonado (as paixões…), é introduzido no jogo pela manipuladora Polina Alexandrovna. Alexei torna-se “profissional”. Joga para sobreviver. E para “matar” a compulsão. A desgraça chega. No final, Alexei tem uma chance de redenção. Mas esse fim só retrata a loucura do vício: “Oh! Foi um notável exemplo de resolução: tinha perdido tudo, tudo… Saio do casino, olho… um florim repousava ainda na algibeira do meu colete: Ah! Ainda tenho com que jantar!, disse eu, mas depois de ter andado uns cem passos, mudei de opinião e voltei atrás. Pus esse florim no manque (dessa vez foi no manque) e, realmente, experimenta-se uma sensação especial quando, sozinho, num país estrangeiro, longe da pátria, dos amigos, não sabendo o que se vai comer nesse mesmo dia, se arrisca o último florim, o último, o último! Ganhei e, vinte minutos mais tarde, saí do casino com cento e setenta florins no bolso. É um fato! Eis o que pode por vezes significar o último florim! E se tivesse deixado ir abaixo, se não tivesse tido a coragem de me decidir?… Amanhã, amanhã, tudo estará acabado!…”.
Nelson Werneck Sodré, em “Síntese de história da cultura brasileira” (DIFEL, 1985), já lembrava que os gostos, hábitos, valores, ideias e atitudes – o agir do homem moderno – estavam cada vez mais condicionados pelos meios de comunicação de massa. Se então vivíamos a era do rádio, do cinema e da TV, hoje somamos o fenômeno, mais agudo, da Internet. A ação crescente desses meios de comunicação de massa – sobretudo a TV e a Internet – criam um certo tipo de “cultura”, a “cultura de massa”, cujas “características essenciais seriam a homogeneidade, a baixa qualidade e a padronização de gostos, ideias, preferências, motivações, interesses e valores”.
Dostoiévski é um autor cult. Dizer que é “pouco lido” no Brasil seria quase um eufemismo. Não faz parte da nossa “cultura das massas”. Mas procuro manter minha aposta nos grandes livros. Na influência destes sobre o público. É fato que o lançamento, em 1784, de “Os sofrimentos do jovem Werther”, de Goethe (1749-1832), provocou uma onda de suicídios na Europa. Longe de mim desejar a repetição de atos desesperadores. Pensava num relançamento “bombástico” de “O jogador” como fomentador da consciência dos malefícios das apostas/jogos. É muito arriscado?
Marcelo Alves Dias de Souza é procurador Regional da República, doutor em Direito (PhD in Law) pelo King’s College London – KCL e membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras – ANRL