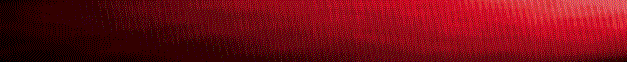Por Marcelo Alves
Georges Simenon (1903-1989), o escritor belga nascido em Liège (portanto criado e formado em língua francesa) nos deu um dos mais famosos detetives que a ficção policial já produziu: o Comissário Jules Maigret. Um detetive bem peculiar: “um homem grande, que come e bebe muito”, como muitos de nós; mas, sobretudo, um herói definitivamente humano, que busca entender a psicologia dos suspeitos e criminosos; e, para quem, muitas vezes, não há culpados nem inocentes, apenas culpas a serem expiadas.
Li, já não me lembro onde, que André Gide (1869-1951) considerava Simenon um dos maiores escritores do século XX. Embora muitas vezes discorde das preferências do autor de “Os subterrâneos do Vaticano”, nesse ponto, dou a mão à palmatória: a dupla Simenon/Maigret é fantástica.
E é a partir da leitura de um dos muitos romances de Simenon/Maigret – no caso, “Maigret no tribunal” (de 1960, mas em edição de 2013 da L&PM) – que vou jogar aqui a seguinte indagação sociológica e jurídica: por que as pessoas cometem aquilo que chamamos, nós e sobretudo a legislação penal de cada país, de crime?
Bom, existem estatísticas sobre crianças e jovens carentes, mal encaminhados na vida, que mais tarde se tornam criminosos. Eles odeiam a sociedade e a culpam por tudo de mal nas suas vidas. Foi mais ou menos isso que li em “Maigret no tribunal”.
De fato, embora não seja de fácil quantificação, é importante entender como os fatores culturais e sociais levam as pessoas à criminalidade (na verdade, de modo mais amplo, a qualquer tipo de pensar e agir).
Grandes sociólogos, como o “pai” da sociologia Émile Durkheim (1858-1917) e, mais recentemente, o americano Robert Merton (1910-2003), labutaram nesse sentido. A sutil “teoria da anomia” é uma tentativa nesse sentido. Basicamente, nas sociedades ocidentais, o sucesso financeiro é um objetivo a ser alcançado. Aliás, é quase sempre estimulado. E, em regra, dadas as devidas oportunidades (educação, emprego etc.), agimos em “conformidade” com os padrões legalmente aceitáveis em busca dessa segurança ou mesmo abundância financeira.
Entretanto, algumas pessoas, na ausência dessas oportunidades, “inovam”, nas palavras do citado sociólogo americano. Como resumem Chris Yuill e Christopher Thorpe em “Se liga na sociologia” (Globo Livros, 2019), “segundo Merton, se os indivíduos desfavorecidos e marginalizados não têm chance de realizar esses ideais, há mais probabilidade de crime.
QUALQUER UM QUE VIVE NUMA ÁREA COM ALTO ÍNDICE DE DESEMPREGO, onde o acesso à educação é limitado ou a discriminação étnica e religiosa é uma realidade, pode ter dificuldade de fazer parte da sociedade. Quando isso acontece, afirma Merton, as pessoas se deparam com uma escolha: aceitar a vida à margem ou fazer o que ele chama de ‘inovar’, isto é, usar meios ilegais para fins legais”.
Penso que a tese defendida por Merton é em boa parte acertada. Explica uma das principais causas da criminalidade. Mas não nos dá todas as respostas. Mais uma vez, socorro-me de Simenon/Maigret na sua análise sociológica, literariamente lúdica, quanto ao encaminhamento das pessoas desfavorecidas à criminalidade. Registra a dupla autor/personagem serem os que assim agem (criminosamente) uma minoria. A maioria – numa proporção muito maior – daqueles que sofreram privações, embora marcados na vida, reage de forma completamente diversa.
Buscam e conseguem provar que valem tanto quanto qualquer de nós. Aprendem um ofício, estudam, se esforçam para ganhar a vida honestamente. Formam uma família e vão à desforra, indo aos domingos, com a companheira e os filhos, à missa ou jogo do seu time de coração.
E mais: temos aqueles que cometem crimes não motivados pelas condições sociais. Já vivem em segurança ou com um estilo de vida até afluente. Em lazer e consumo ostensivos, ou conspícuos, para usar da expressão de Thorstein Veblen (1857-1929), outro grande economista e sociólogo americano. Fazem disso – da criminalidade – uma profissão. Nos altos escalões do tráfico de drogas ou na criminalidade do colarinho branco, por exemplo. Em forma de grande empresa ou comércio. Eles também são uma minoria, é verdade. Mas sem relevante expiação.
Marcelo Alves Dias de Souza é procurador regional da República e doutor em Direito (PhD in Law) pelo King’s College London – KCL