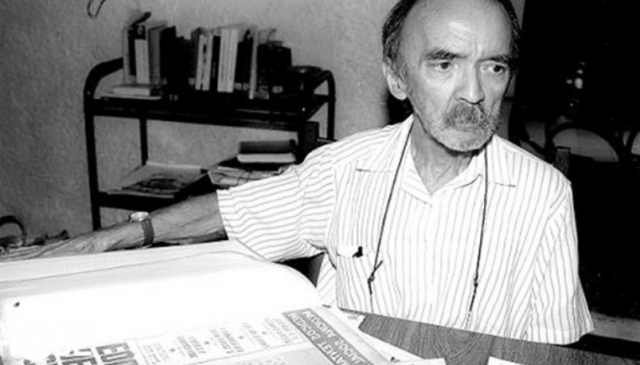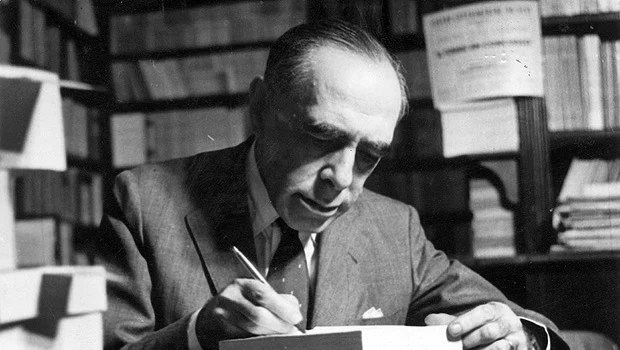E rio!
De mim mesmo
Rio.
II
Um riso triste
Mas um riso.
III
Se mereço aplausos?
Sei lá…
IV
Talvez sim…
Talvez por fazer você rir de mim.
V
Existe palhaço mais engraçado do que eu?
VI
Que rio e faço você rir
Sem nem mesmo contar piadas
Sem nem mesmo calçar o sapato grande
Ou colocar nariz postiço fazendo da vida um grande picadeiro.
VII
Até quando continuarei neste grande circo?
Inácio Augusto de Almeida é jornalista e escritor





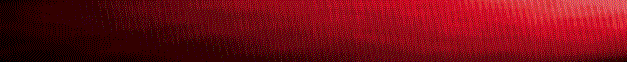

 Sim, a rede embala os nossos sonhos. Deixa-nos sem pressa do amanhã. Nessa vida corrida, na qual o ter é mais importante do que o ser, como é bom uma rede para espichar o corpo, descansando das batalhas do cotidiano. Uma rede no alpendre de uma casa de praia, vendo o mar e a lua se beijando, não tem “pareia”. A rede balança, gostosamente, um chamego.
Sim, a rede embala os nossos sonhos. Deixa-nos sem pressa do amanhã. Nessa vida corrida, na qual o ter é mais importante do que o ser, como é bom uma rede para espichar o corpo, descansando das batalhas do cotidiano. Uma rede no alpendre de uma casa de praia, vendo o mar e a lua se beijando, não tem “pareia”. A rede balança, gostosamente, um chamego.