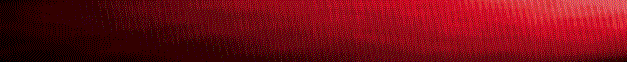Por Marcos Ferreira
Há uns trinta minutos, quando fui estender a toalha no varal, avistei um lindo beija-flor adejando sobre o mato florido que reveste parte do meu muro. Detive-me, estático, para não afugentar o bichinho alado. Daí a pouco, após oscular algumas florzinhas, ele se foi lépido e fagueiro.
Até quando, reflito, teremos o privilégio de contemplar seres graciosos como esse colibri? Tantos outros viventes (animais quanto vegetais) já foram extintos ou se encontram ameaçados de extinção devido à nossa postura irresponsável neste não menos ameaçado planeta. Somos, gostemos ou não, a espécie predadora mais letal sobre a face da Terra. Predadora até de si mesma, ressalte-se. Penso nisso enquanto ouço, aqui sentado à escrivaninha, bebendo café, o passaredo trilando na mangueira do vizinho, por trás da minha casa. São exatamente sete e cinco. Raras vezes estou desperto a essa hora da madrugada, entorpecido por meus psicotrópicos. Mas hoje caí da cama. Melhor dizendo, da rede, pois os cupins devoraram minha cama há cerca de dois anos. Madeira molinha, um tipo de musse para aqueles insetos vorazes.
Somos, gostemos ou não, a espécie predadora mais letal sobre a face da Terra. Predadora até de si mesma, ressalte-se. Penso nisso enquanto ouço, aqui sentado à escrivaninha, bebendo café, o passaredo trilando na mangueira do vizinho, por trás da minha casa. São exatamente sete e cinco. Raras vezes estou desperto a essa hora da madrugada, entorpecido por meus psicotrópicos. Mas hoje caí da cama. Melhor dizendo, da rede, pois os cupins devoraram minha cama há cerca de dois anos. Madeira molinha, um tipo de musse para aqueles insetos vorazes.
Elegendo prioridades, sempre estamos sujeitos às benditas prioridades, findei não comprando outra. Até porque aprecio dormir de rede, hábito que trago desde a primeira infância, à luz bruxuleante de uma lamparina de querosene que meus saudosos pais deixavam acesa na cozinha de nossa residência de taipa na Avenida Alberto Maranhão, 3521, no Bom Jardim.
Com a rede espichada na sala, onde está a televisão, assisto a filmes e séries. O cinema, como referi noutras ocasiões, é uma grande e antiga paixão, assim como a literatura (lógico!) e a música.
Neste momento executo no computador uma playlist com oito horas de blues. Ao fundo, no entanto, o gorjeio múltiplo dos pássaros é um show à parte. Ao longo de vários anos, devido ao seu enorme tamanho e ao temor de vizinhos contíguos, que receiam o desabamento da mangueira pela ação do vento durante fortes chuvas, a senhora Francisca, dona da casa onde se encontra a portentosa árvore, já foi muito pressionada para que a fruteira seja extraída. Até aqui, todavia, a mangueira continua de pé, apesar de ter passado por algumas podas significativas.
Somos propensos a soluções drásticas, radicais, não raro com prejuízo para a preservação da fauna e da flora. Simpatizamos com o machado e negligenciamos a semeadura. O tempo todo, em Mossoró não é diferente, o ferro e o concreto assumem o lugar de árvores. Até os pardais e os pombos, entre as aves talvez as mais urbanas, sofrem com a chapa quente que se tornou este município desarborizado.
A selva de pedra cresce com velocidade preocupante. Com isto, prezado leitor e gentil leitora, retomo o assunto que move esta narrativa: nossa índole predadora e inconsequente. É que desmatamos e ceifamos bem mais que o necessário.
OUSO AFIRMAR que a Natureza é perfeita. Nós, entretanto, seres supostamente humanos e racionais, somos desgraçadamente falhos, até desumanos em alguns instantes de nossa existência. A humanidade, pelas mãos de tiranos e genocidas como Adolf Hitler, Benito Mussolini, Gengis Khan e Messias Ignaro, possui uma ficha medonha. Cada vez mais acredito nisso. Vem-me a ideia de que somos (alerto que a palavra somos será empregada em vários pontos desta narrativa) a única obra defeituosa do Criador, uma invenção que, a meu ver, não deu muito certo.
O resto da criação do Todo-Poderoso, exceto por nossa interferência inconsequente, perniciosa, sempre viveu em equilíbrio e harmonia. Hoje, porém, de forma dramática, esse equilíbrio e harmonia estão seriamente ameaçados. Somos a única espécie de todo o globo que põe em risco o próprio habitat, devastando a fauna e a flora, concorrendo para a degradação da vida em larga escala, seja na terra, na água ou no ar, pois sequer o céu (leia-se camada de ozônio) escapa.
Isto significa, como na célebre frase do dramaturgo romano Titus Maccius Plautus, que viveu há cerca de duzentos anos antes de Cristo, que o homem é o lobo do homem. Ou seja, promovemos nossa autodestruição. A sentença metafórica de Plautus, contudo, tornou-se de fato conhecida após o filósofo inglês Thomas Hobbes incluí-la em seu livro Leviatã, publicado no ano de 1651. Eu era muito pequeno à época, portanto, e não quero agora me arriscar discorrendo sobre passagens históricas desse tipo, cheias de poeira e com forte cheiro de naftalina.
Fiquemos com este complicado e perigoso momento. Quem sabe limítrofe, iminente. Estamos cada dia mais próximos, conforme cientistas de todo o mundo nos têm alertado há décadas, de um apocalipse climático.
Dia após dia, senhoras e senhores, e isso não é coisa de hoje, a Terra vem nos dando inúmeros sinais de que estamos em maus lençóis, de que o nosso abominável e criminoso comportamento se encontra por um fio. Porque desrespeitamos a Natureza de forma gritante. Poluímos o ar, envenenamos rios e mares, agredimos povos indígenas, desvirtuamos suas tradições, devastamos florestas. É uma coisa monstruosa, insana, o que estamos fazendo contra nossa Amazônia.
Que o diga o senhor Ricardo Motosserra, ex-ministro do Desmantelo Ambiente e negociante de madeira contrabandeada para os Estados Unidos, escândalo este público e notório. Acredito que não ficaremos impunes por muito mais tempo. Não duvido, por exemplo, de que essa pandemia, tão rica de cepas e variantes, venha a ser um recadinho subliminar que a Natureza esteja nos enviando por meio de outros mamíferos, desta feita bichinhos alados do Oriente: morcegos.
Admitamos ou não, estamos colhendo aquilo que semeamos. Ou, em muitos casos, deixamos de semear, replantar, zelar, proteger. Pelo retrovisor da História, prezado leitor e gentil leitora, é fácil enxergarmos o gigantesco rasto de devastação que deixamos por onde passamos. Porque somos (proponho que leiam a palavra somos ao contrário) predadores de nós mesmos. Somos, sim! E qualquer dia, cedo ou tarde, teremos que pagar essa conta com juros e correções.
Num piscar de olhos, então, enfurecida, a Natureza poderá nos varrer da face da Terra. Como diz o ditado, quem viver verá.
Marcos Ferreira é escritor
















 Por Marcos Ferreira
Por Marcos Ferreira