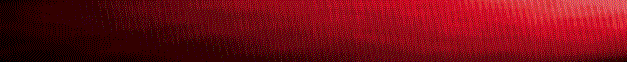Por Marcos Ferreira
Quase três horas adulando um soneto. Consegui dar cabo dos quartetos (razoáveis, a meu ver), porém os tercetos emperraram. Paciência. Mudemos para a crônica. Deixemos o poema amadurecendo nos escaninhos da mente. No mais das vezes persevero, travo uma luta ferrenha com os meus neurônios, mas há ocasiões em que é preciso dar um tempo, tomar um banho bem frio e uma boa talagada de café amargo. Após isso, o que não é regra, termino encontrando a solução para os versos insubordinados, inacessíveis como certos políticos reeleitos.
Se eu sigo algum ritual para escrever? Talvez. Mas seria algo involuntário. Inquieto-me da mesa para a cama, da cama para a rede, armada aqui na sala, às vezes com uma caneta e bloco de notas. Então “eu olho, assustado, para a página branca de susto”. Apenas para citar Quintana, embora alguns leitores mais áridos, carentes de cultura literária, considerem tais citações uma coisa presumida, empolada, pedante. Fazer o quê? Não posso responder pela ignorância alheia. A minha já me é o bastante para que eu entenda que aquilo que sei é uma gota e o que ignoro é um oceano, como nas palavras do cientista inglês Isaac Newton.
Ouso dizer que hoje em dia, dispondo-se de um serviço de internet, de um celular ou computador, tornou-se fácil (aspas) que um indivíduo se venda por intelectual. Ou afete, digamos, uma intelectualidade medíocre. Porque frases engenhosas como essa de Newton são absolutamente encontráveis nos sites de busca, sem que o suposto intelectual precise consultar sua biblioteca física um sem-número de vezes, no caso daquelas pessoas que possuem bibliotecas.
Temos em Mossoró um autor — rapaz velho com mais de setenta anos, formado em ciências jurídicas e medicina veterinária, entretanto estabelecido no ramo de peças de automóveis — que já deveria ter sido agraciado com um Jabuti ou um Prêmio São Paulo de Literatura. Se não pelas várias obras publicadas do próprio bolso, entusiasticamente aplaudidas pelas igrejinhas de Vila Negra e da capital, ao menos pela admirável qualidade das epígrafes e aforismos com que ele impregna os seus romances, contos, poemas, crônicas e até ensaios literários.
Sim. O senhor Olavo Cardoso, eis o nome do referido escriba, notabiliza-se (no meu modo de ver) muito mais pela citação das obras e pensamentos de terceiros do que pelos méritos de suas próprias letras.
Isso, no entanto, não é da minha conta. Decerto também não é do interesse do paciente leitor. Iniciei estas linhas falando sobre poesia, e é sobre poesia que desejo continuar falando. Talvez eu devesse expor aqui as duas primeiras estrofes do referido soneto. Não. Fiquemos na categoria da crônica. O que não me impede de lhes apresentar a minha opinião sobre a arte do verso.
Eu dizia da minha peleja à cata dos tercetos, até agora sem remédio. Estalo os dedos. Daí a pouco vou dar uma olhada no trânsito. Espio por cima do muro, que é baixo o suficiente para esse tipo de espreita. Subo em dois tijolos de cerâmica, que mantenho ali para essa finalidade. Ganho uns vinte centímetros de altura e consigo espichar a cabeça para melhor examinar a rua.
Contudo ainda é cedo e quase não há tráfego; uma motocicleta e um carro passam devagar. A seguir, com menos velocidade, dois ciclistas e um carroceiro tomam rumos contrários. A carroça segue em direção ao oeste enquanto as bicicletas rumam para o leste. Ruazinha estragada e morta de um domingo igualmente morto. Continuo, repito, sem engenho para dar à luz os tercetos necessários à conclusão daquele soneto iniciado há horas.
Volto para a rede, enfastiado da monótona paisagem da rua. Apesar do inexplicável tremor das minhas mãos, coisa que o Dr. Dirceu Lopes (meu psiquiatra) tem se empenhado em resolver, pego o bloco de notas e me ponho a cismar, os olhos mirando o vazio, mordiscando a tampa da caneta. Sobre o que escrever, afinal, nesta crônica digressiva, sem rumo certo? “Decifra-me ou te devoro”, ameaça-me a esfinge de Tebas.
É melhor que eu não permaneça na enrolação, abusando da paciência do leitor, cujo tempo destinado às nossas crônicas de qualidade supostamente apreciável merece ser valorizado. Pego outra xícara de café amargo e me ponho a saborear a rubiácea. Sequer um braço de vento se insurge contra a quietude.
Ouço a buzina de um carro, seguida pelo som das portas se fechando, e vou espiar a rua outra vez. A visita não é para mim, felizmente. O veículo parou diante da casa da senhora Margareth. Desceu um jovem e rechonchudo casal e o rapaz tocou a campainha da residência. Em alguns minutos a senhora Margareth lhes abriu o portão. O cachorro vira-lata do padeiro Saldanha vela um osso descarnado ao pé do poste. E esta rua vazia e morta me lembra um poema de Mauro Mota. Uma cigarra estridula seu característico canto de acasalamento nas imediações.
Sofro intimamente a dor dos versos que não consigo parir, esperando uma fagulha de engenho. Tenho a impressão de que me olham, à sorrelfa, os olhos invisíveis da Poesia, que hoje está de mal comigo.
Antes de atritarem as primeiras pedras e obterem o fogo, ela já se fizera inquilina dos subterrâneos e porões das nossas almas. Precede a escrita, a tinta e o papiro. Constitui os primórdios da linguagem. Compõe a nossa essência e cotidiano desde a pré-história, do interior das cavernas às habitações de agora. Socializou e interagiu com o homem primitivo à volta de fogueiras.
Ela está em toda parte. Sobreviveu a hecatombes e cataclismos, foi tragada por dilúvios e consumida por vulcões, no entanto ressurgiu como uma fênix. Sempre viveu conosco, em meio à luz e às trevas, independente do nosso querer e escolha. Existe desde a criação do mundo e do ser humano. Possui dimensões microscópicas quanto gigantescas. Muitas vezes se encontra bem diante dos nossos olhos e não conseguimos enxergá-la. Com algumas exceções, pois há quem jure de pés juntos que a desprezam e repelem, todos a estimamos e a cobiçamos.
Sinto a sua presença enquanto escrevo. Adivinho o seu olhar onipresente pairando sobre mim. Está dentro de nós, habita-nos e nos circunda a um só tempo. Não nos diz a que veio (nem carece), pois a ela nos destinamos, embora a subestimemos aqui e ali com a nossa fria e pragmática lógica.
Hoje a Poesia não parece disposta a colaborar para a conclusão do meu soneto. Vejo-a reflorir entre os espinhos e pedras do caminho. Continua e será exatamente a mesma, por séculos infindos, diversa e una. Reina sobre todas as amarras e grilhões, sobre todas as formas e regras, antiguidades e modernismos, vozes e silêncios, guerras e paz. Ela coexiste entre a lágrima e o riso, entre o êxtase e a dor, o fracasso e o sucesso. É fardo e fortuna, prazer e suplício de todos os seus discípulos e devotos. Alista reis e vassalos para a empresa de sua eternidade. Nobres e plebeus compartilham do mesmo pão verbal à sua mesa farta e indistinta.
Não possui fronteiras nem alfândegas. Cabe no útero de uma ostra e transborda rios, agita oceanos. É a pomba e o chacal, a espada e o cordeiro. Ora é festa e multidão, noutro instante é abandono e vazio. E se acaso à noite ela se revela sombra e embaraço, ressurge cristalina “mal rompe a manhã”.
Eis, senhoras e senhores, a irmã de Cristo, a filha bastarda que Deus não quis registrar nas Sagradas Escrituras: a Poesia!
Marcos Ferreira é escritor