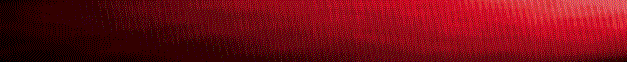Por Jânio Rego
Como era o nome dele? Trabalhava na loja de peças de Yoyô Almeida. A memória turvou o nome do personagem da infância mas fixou a cena que compartilhei com Marcilio C. Nascimento.
Depois do almoço ele passava no rumo do bairro da Paraíba, morava por trás da capela de São Vicente. Quando passava, os meninos já estavam sentados na sombra das castanholas da calçada de Dona Helena, conversando, chupando picolé de creme holandês, preparando alguma aventura pelos arredores.
A rua Francisco Ramalho vazia, o patamar da igreja torrando ao sol . Como era o nome dele? Falava com eles, até parava um pouco, e caminhava sem pressa de empregado do comércio, quando à altura da casa de Pedro Borges acendia um invariável cigarro, tão forte que sentíamos o cheiro até ele dobrar a esquina.
Como era o nome dele?
Além de lembrar de ‘Edson Panqueca’, Marcilio lembrou detalhes da família e do destino dele, e ainda me trouxe ao telefone, para falar comigo, ao vivo, mais três personagens da minha vida mossoroense: Francisco Moreira, Marcos Medeiros e Ricardo Benjamim.
Foi um presente de fim de ano.
Boas festas.
Jânio Rêgo é jornalista