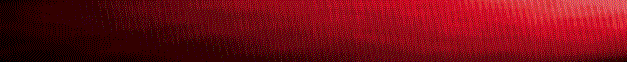levantamento atualizado do setor foi apresentado essa semana (Foto ilustrativa da Kwangmoozaa Istock)
As taxas de juros elevadas completaram um ano como o principal problema enfrentado pela Indústria da Construção. Essa barreira é apontada por 35% dos empresários ouvidos na Sondagem Indústria da Construção do 3º trimestre de 2025, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em conjunto com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), nessa semana.
A alta carga tributária aparece em segundo lugar como maior entrave, com 32,2% das menções, avanço de 1,7 pontos percentuais no trimestre. Nos últimos três trimestres, este indicador cresceu 5,6 pontos percentuais. Em seguida, os maiores problemas para os empresários da construção envolvem a dificuldade de contratar mão de obra.
Com 25,8% das citações, em terceiro lugar, está a falta ou alto custo de mão de obra qualificada, enquanto em seguida, com 24,5% dos problemas, está a falta ou alto custo da mão de obra sem qualificação.
Outros números
O índice de evolução do nível de atividade ficou em 48,4 pontos em setembro e superou a média histórica do mês, mas encontra-se abaixo do registrado em setembro de 2024. Já o índice de emprego chegou a 47,1 pontos — o menor para setembro nos últimos sete anos, apesar da alta mensal. Já a Utilização da Capacidade Operacional (UCO) voltou a alcançar 68%, após subir 2 pontos percentuais frente a agosto.
As condições financeiras, no entanto, seguem no vermelho, apesar de melhora significativa no trimestre (3,7 pontos) no índice de satisfação com a situação financeira das empresas, que alcançou 48,7 pontos. O índice de satisfação com o lucro operacional acompanhou o movimento, atingindo 45,4 pontos, o que indica uma insatisfação menos disseminada, mas ainda presente.
No crédito, o alívio foi mínimo. O índice de facilidade de acesso subiu para 38,6 pontos, permanecendo em território de forte restrição. Para os empresários, a falta de recursos acessíveis segue sendo um entrave central à expansão da atividade e ao investimento em novos projetos.
Outro fator de pressão é o avanço dos custos. O índice de evolução do preço médio de insumos e matérias-primas aumentou para 61,6 pontos no trimestre, o que sinaliza a aceleração no ritmo de alta. O encarecimento dos materiais continua reduzindo margens de lucro e comprometendo a competitividade das empresas.
Acesse nosso Instagram AQUI.
Acesse nosso Threads AQUI.
Acesse nosso X (antigo Twitter) AQUI.