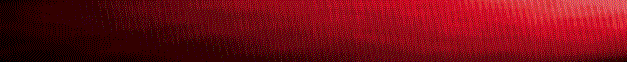Espero que ninguém se ofenda, contudo acho que o trabalho mais ingrato, senão inútil para quem o realiza, é o de copidesque e revisor de textos. O ofício desses lapidadores do nosso idioma é totalmente obscuro. Pois nesse triunvirato entre escritor, copidesque e revisor, quem sempre leva os louros por uma coisa bem escrita (livre de pleonasmos, ecos, redundâncias, erros de ortografia, de concordância verbal e nominal, além da sintaxe por vezes caótica) é o suposto literato.
Precisa-se fazer a seguinte distinção: nem todo revisor é copidesque, porém todo copidesque é revisor. No geral, sem que isso seja considerado um detalhe negativo, o revisor se encarrega da importante missão de localizar e consertar falhas puramente gramaticais e tropeços de digitação. Já o outro faz tudo isso e pode transformar uma página ou livro muito ruim em algo apresentável do ponto de vista redacional. Quanto ao aspecto artístico, aí vai depender de cada autor. Do contrário, ultrapassando essa linha de atuação, descambaria para a alçada do escritor fantasma.
Tudo bem que há aqueles indivíduos fora de série, narradores excepcionais, homens e mulheres com “redação própria”, como no caso de Otto Lara Resende, mas isso não é uma regra. Porque ninguém, por melhor que seja, pode ignorar a prudência e abrir mão de olhos treinados, mais atentos e descansados.
Diante do que oferecem, e considerando a remuneração desses profissionais, pode-se dizer que o reconhecimento é pífio. Na medicina, na advocacia, na arquitetura e na engenharia, por exemplo, é certeza que as pessoas logo perguntem quem foi (ou é) o médico responsável, o advogado, o arquiteto ou engenheiro.
Já em relação a um determinado romance, um livro de contos, de crônicas ou de poemas, ninguém quer saber quem foi o sujeito (oculto) que cuidou do copidesque e da revisão. Sei que as palavras copidesque e revisor aqui empregadas pipocam como um tipo de redundância, todavia não é possível falar acerca dessa questão sem repeti-las.
Segundo Luis Fernando Verissimo, que também foi revisor de jornal: “Os revisores só não dominaram o mundo porque ainda não se deram conta do poder que têm”. A meu ver, enfim, esses operários das letras são muito pouco reconhecidos. Não sei o que seria dos literatos sem os copidesques e revisores.
Marcos Ferreira é escritor