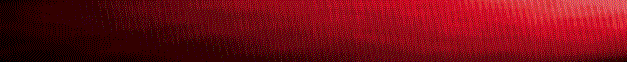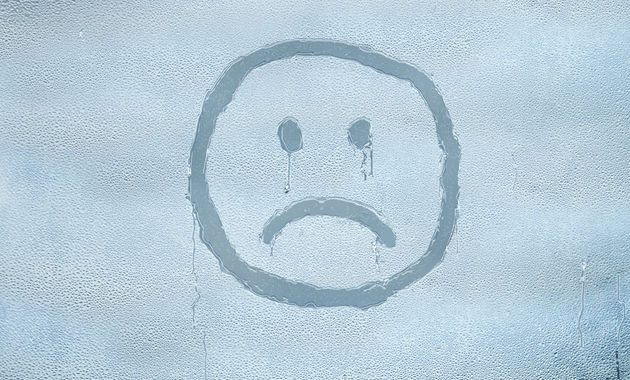Todo domingo é assim. Pomos a cara fora e tratamos sobre um monte de assuntos. Há uns que caem no gosto do público leitor, e o cronista é logo aplaudido por seu texto. Pois bem. O Blog Carlos Santos (Canal BCS) é isto: um reduto desses intelectos, e atrai pessoas dos mais diversos estratos humanos e níveis críticos. São um show à parte os comentários vistos no espaço reservado à opinião dos leitores.
Assim como eu, alguns articulistas se autodenominam escritores. Não tiro a razão de ninguém. Já outros, mais contidos quanto modestos, preferem informar suas profissões e status curriculares. Para os quais tiro o chapéu.
Aos domingos, então, expomos nossa escrita acerca de um sem-número de temas. Há aqueles, todavia, que se atêm a um determinado campo temático, a exemplo do doutor Marcelo Alves Dias de Souza, aguçado bateador da história da Literatura e dos seus autores, tanto os bambas das letras nacionais quanto estrangeiras. Temos também a verve suave e envolvente do cronista Odemirton Filho.
Vez por outra é François Silvestre quem ataca com uma crônica, artigo ou poema neste espaço. François, com legitimidade, é mais um que se declara escritor. Possui biografia, histórico e estatura para dizer-se como tal.
Temos, ainda, o não menos doutor e professor Marcos Araújo, cuja inteligência e mérito literário não ficam a dever a nenhum de nós. O mestre Honório de Medeiros é outro que volta e meia dá o ar da graça com uma página de apreciável rutilância. Semana passada deu-se a estreia do ilustrado Hildeberto Barbosa Filho, professor da UFPB, poeta, escritor e membro da Academia Paraibana de Letras.
Por essa ou aquela razão, enfim, todos escrevemos. Uns com periodicidade definida, enquanto fulano e beltrano comparecem de maneira esporádica, feito procedem o doutor Marcos Araújo e Honório de Medeiros. O importante é escrever, ter onde publicar e contar com o interesse de nove ou dez leitores.
Se me perguntarem por que escrevemos, digo que é menos por dom que necessidade. Abrimos uma brecha em nossas agendas (a maioria possui isso) e nos dedicamos a compor algo com um mínimo de literariedade.
Marcos Ferreira é escritor