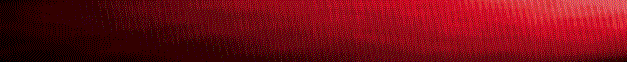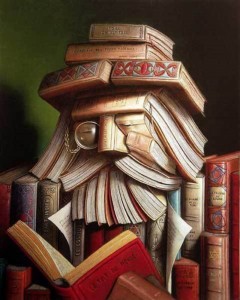Por Odemirton Filho
Quem gosta de política lembra-se, com saudade, das campanhas eleitorais de outros tempos.
Em minha memória guardo a campanha ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, em 1982, entre Aluízio Alves (Cigano Feiticeiro) e José Agripino (Jajá).
Ainda criança, lembro-me da magia que cercava aqueles momentos, levado pelos meus pais para acompanhar essas movimentações políticas.
Decerto não entendia nada, gostava era de ver as figuras que faziam a alegria das movimentações políticas. Ramos de árvores nas mãos dos eleitores, o homem do carneiro verde, discursos inflamados, passeatas com uma multidão a perder de vista.

Candidato ao Senado Carlos Alberto de Sousa, governador Lavoisier Maia, ex-governador Tarcísio de Vasconcelos Maia e José Agripino Maia com o filho Felipe Maia nos braços na campanha eleitoral de 1982 no RN (Foto: autoria não identificada)
A tradicional descida do Alto de São Manoel sempre foi o ponto alto das campanhas em Mossoró. O candidato que conseguisse reunir maior número de pessoas estava a um passo de ser eleito, segundo a lenda eleitoral.
Era, sem dúvida, uma festa popular.
A campanha de 1986 entre João Faustino (João do Coração) e Geraldo Melo (o Tamborete) foi memorável. Ali, já adolescente, me envolvi com maior atenção, pois tínhamos tido, recentemente, a redemocratização do país.
Até hoje não ouvi uma música de campanha que embalasse tanto os eleitores como as do “tamborete”, que “soprava o vento forte”.
Existia, em Mossoró, o chamado Largo do Jumbo, onde hoje se localiza o Ginásio de Esportes Engenheiro Pedro Ciarlini Neto.
Naquela época era possível a realização dos showmícios. O candidato que contratasse um cantor de nome nacional conseguiria impressionar, pois reuniria um número maior de pessoas, não necessariamente seus eleitores.
Simultaneamente tínhamos dois comícios. Um realizado no Largo do Jumbo e o outro no Largo da Cobal. As pessoas, então, ficavam circulando entre um e outro, para ver qual tinha mais gente e curtir as atrações musicais.
Em 1988 a disputa foi entre Laíre Rosado, o favorito, e Rosalba Ciarlini, a novidade. Em uma campanha acirrada que teve a adesão do prefeito Dix-Huit Rosado, a “Rosa” sagrou-se vencedora.
Mais uma vez acompanhei tudo de perto. Naquela campanha o Partido dos Trabalhadores (PT) lançou Chagas Silva/Zé Estrela a prefeito e vice-prefeito de Mossoró.
Em um arroubo de minha juventude, depois de uns goles a mais, fui repreendido pelo meu saudoso avô Vivaldo Dantas, comunista histórico, quando menosprezei uma movimentação do PT que se fazia em frente à sua residência.
Na campanha de 1989 votei pela primeira vez. Era o “Caçador de Marajás”, Fernando Collor, contra Lula, em sua primeira disputa à Presidência da República.
Em 1992 tudo caminhava para a vitória de Luiz Pinto, candidato de Rosalba, contra o ex-prefeito Dix-Huit Rosado. Porém, apresentando toda sua força, o “velho” alcaide mostrou que era a grande liderança de Mossoró e foi eleito para um terceiro mandato.
Para mim essas campanhas eleitorais são inesquecíveis.
Com o passar dos tempos a alegria dos comícios foi substituída pela responsabilidade que deveria ter ao escolher os meus representantes. Era mais do que uma festa.
Sem dúvida, nas cidades interioranas todos têm suas campanhas favoritas. Quanto menor a cidade, maior o acirramento. Move-se pela paixão, não pela razão.
No dia de eleição, ao sair às ruas, se as cores do seu partido estivessem em maioria, provavelmente o candidato ganharia. A pesquisa, nas cidades pequenas, era feita de acordo com a quantidade de camisas no dia da eleição.
Quem não se lembra das vigílias na véspera do dia da eleição? Os correligionários dos candidatos passavam à noite percorrendo os bairros da cidade, “vigiando” os adversários para que não praticassem a compra de voto.
As pessoas ficavam nas calçadas durante toda a madrugada a espera de um agrado dos candidatos.
Hoje a realidade é outra. As campanhas eleitorais saíram das ruas e estão nas redes sociais. O medo de ir às ruas para acompanhar uma movimentação política impede uma maior concentração de eleitores.
Ademais a sociedade encontra-se em desalento, pois há tempos que vem sendo manipulada pelas falsas promessas que ano após ano se repetem.
A intolerância é marca registrada da campanha eleitoral deste ano. A violência campeia. Chegamos ao absurdo de um candidato ser esfaqueado e uma mobilização de outro ser alvejada por tiros disparados a esmo.
Outros tempos. A festividade de outrora perdeu o brilho.
O rigor da legislação eleitoral, para se evitar os muitos abusos que eram praticados, arrefeceu as mobilizações políticas.
A sociedade parece que cansou do circo.
Agora, mais do que nunca, precisa é do pão.
Odemirton Filho é professor e oficial de Justiça