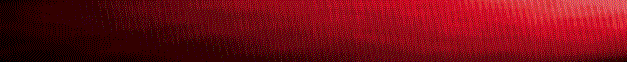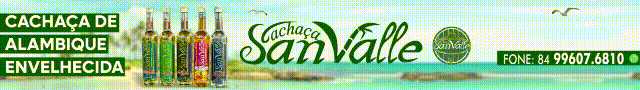Por Bruno Ernesto
O próximo dia 27 de janeiro marcará oitenta anos da libertação de Auschwitz-Birkenau, o mais famoso e emblemático campo de concentração nazista, onde foram mortas mais de um milhão de pessoas, a maioria delas judeus.
Qualquer fato histórico sobre a Segunda Guerra Mundial é impressionante, porém – tenha certeza -, por mais que você leia, escute ou assista qualquer coisa sobre Auschwitz-Birkenau, nada se compara a andar por aquelas instalações e pôr as mãos em suas paredes. Até o sol e as sombras são diferentes.
Embora seja uma história bem relatada e documentada, com vasto material escrito, diversas vezes retratada no cinema, documentários, e em incontáveis histórias, imagens e imaginário, andar por suas instalações é indescritivelmente angustiante.
Originalmente, primeira parte do complexo – denominada de Auschwitz I e composta por 28 edificações de tijolos aparentes -, era uma instalação militar no sul da Polônia e que, após a invasão alemã em 1939, foi transformada em uma prisão para presos políticos e, somente a partir de 1941 é que teve início a utilização das câmaras de gás, e é lá onde está localizado o famoso letreiro com a infame frase “Arbeit macht frei” (O trabalho liberta), que representa o sadismo dos nazistas.
Para quem, assim como eu, se interessa pela história da Segunda Guerra Mundial, nada mais marcante que poder conhecer pessoalmente onde a história se materializou.
Cada prédio, suas salas e pátios, por si, já permite contar um infindável numero de histórias macabras como, por exemplo, as experiências médicas de Josef Mengele no bloco 10.
O terror do bloco 11, conhecido como o bloco da morte, onde os prisioneiros infratores eram submetidos a um julgamento sumário, e cuja sentença invariavelmente era a morte por fuzilamento, logo ao lado da sala de julgamento. Bastava o sentenciado sair da sala, despir-se na sala ao lado, descer uma pequena escada para o pátio lateral e ser posto de frente ao pelotão de fuzilamento para encontrar o seu fim.
No bloco mais à frente, já em direção à câmara de gás e um pouco antes dela, pode-se ver a trave de enforcamento.
Horror maior foi ter entrado na câmara de gás, correr as pontas dos dedos em sua parede e sentir que os veios escavados nela eram, em verdade, as marcas de arranhadura das unhas de suas vítimas, agonizando em busca de fuga enquanto o gás cianídrico obtido do pesticida Zyklon B as sufocava e, logo ao lado, o crematório lhes aguardava.
Ao lado, via-se a pomposa casa de Rudolf Höss, o comandante encarregado de Auschwitz, onde ele sua família desfrutavam de uma vida em outra dimensão, separados do inferno por ele comandado e que, ele próprio, encontrou o seu fim em 16 de abril de 1947, numa forca posta bem na entrada da câmara de gás do campo de extermínio que ele comandou.
Em verdade, o complexo de Auschwitz-Birkenau é bem maior que se possa imaginar, pois esses 28 blocos que compõem Auschwitz são apenas a primeira parte da máquina de morte nazista, sendo o campo de Birkenau, localizado logo ao lado dele, e que pode ser alcançado em poucos minutos de carro, muito maior, e cuja primeira visão de quem vão visitá-lo são os trilhos nos quais chegavam os vagões abarrotados de prisioneiros. Simplesmente é inacreditável.
Como já pontuei em outras oportunidades, a história, por vezes, é muito irônica, pois, naquele 27 de janeiro de 1945, Auschwitz foi libertada pela Primeira Frente Ucraniana, que na época fazia parte da União Soviética, e era comandada com mão de ferro por Stalin, e hoje é a Ucrânia quem luta para se ver libertada da Rússia.
Bruno Ernesto é advogado, professor e escritor