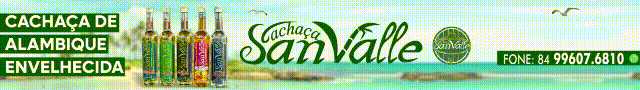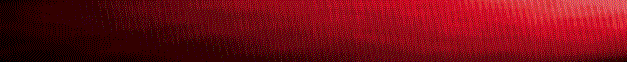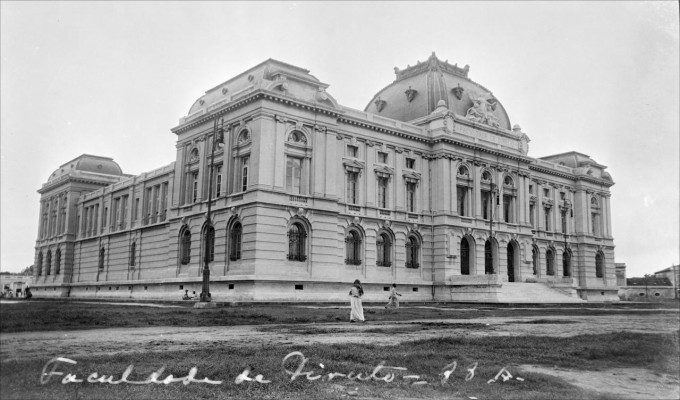Por Bruno Ernesto
O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, é um permanente lampejo dos paradoxos com os quais corriqueiramente nos deparamos.
Se em atos, palavras, gestos e omissões, tudo parece controlável – e tentamos amiúde seguir todos os rituais, crenças e valores – o pensamento é incontornável. Incontrolável, diria melhor.
Se o personagem não lhe é familiar, é só lembrar que ele tem todos os problemas mundanos que temos. Entretanto, além dos próprios – coitado -, precisa cuidar dos pecados dos outros.
Às vezes fico a imaginar, pelos recantos mais obscuros da mente, quantas ideias surgem após uma confissão.
Certa vez o Papa Francisco, ao ser indagado da real necessidade de sempre se confessar e pedir perdão, respondeu de forma reflexiva, que nossa alma é como uma casa, e como tal, sempre há cômodos e cantinhos a serem limpos.
Não é fácil manter-se afastado do mau caminho, das tentações, dos refugos morais e dos porões da consciência.
Sejamos francos: nem você tem certeza de sua inocência. E não estou falando consciência. O que não está escrito também faz parte do livro.
Sob a lógica hedonista, fomos comer uma pizza num restaurante recém inaugurado em Natal, com um nome italianíssimo, mas sem aquele gosto e jeito de uma tradicional comida italiana.
Embora não venha ao caso, quando surge alguma novidade na gastronomia local, sempre gosto de enviar as novidades para o meu amigo Armando Paolo, italianíssimo em tudo – especialmente na sinceridade -, que logo dispara:
– Misturaram frutos do mar com queijo? Não entende nem de culinária quer entender de comida italiana!
Pelo adiantado da hora, cheguei disposto a cometer o pecado da gula e conhecer melhor aquele neófito restaurante na capital Potiguar.
Como sou abstêmio, – não, nunca fui adicto. Exceto pela cafeína – não pedi nem uma taça de vinho, e fui direto à comida.
Pela fama de outra capital, resolvemos pedir uma pizza. Embora há vinte cinco anos tenha a Pasta da Walter como minha preferida, especialmente a pizza de aliche, a ginga dos italianos.
Embora com fome, naquela noite, confesso que me senti um pecador, indigno de me sentar àquela mesa.
Quando pus os olhos naquela pizza, posta ali na mesa de forma tão delica pelo atendente, era tão fina, que tive a sensação de que iria comungar.
Disse logo: Não posso comer!
Ela me olhou séria e disparou, surpresa:
– E por que não?
Não me confessei!
No outro dia, fomos à Pasta da Walter.
Bruno Ernesto é advogado, professor, escritor e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mossoró – IHGM