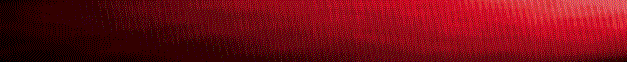Por Marcelo Alves
Grande nome da história do direito e da política em nosso país, o potiguar Amaro Cavalcanti (1849-1922) é autor, dentre muitos outros títulos, de “Regime Federativo e a República Brasileira” (1900), um clássico das nossas letras jurídicas, escrito na virada do século XIX para o XX. Nele, constatando a ignorância da maior parte do nosso público sobre o sistema político-administrativo federativo e a necessidade de se “firmar, enquanto é tempo, a boa regra e doutrina contra certas ideias preconcebidas e a continuação de práticas abusivas” na nossa jovem República, o autor promete o seu “sincero empenho de concorrer para a satisfação da necessidade apontada”.
E, de fato, ele bem estabelece uma “teoria do regime federativo, tão completa quanto possível nos limites traçados”, servindo-se, para isso, “da melhor lição dos autores, que no estudo da matéria são reputados os mais proficientes e abalizados”.
De logo, entusiasta que sou do direito comparado, sobretudo quando misturado com o conceptualismo jurídico (que visa a sistematizar e esclarecer os conceitos e termos do direito), chamo a atenção para a busca do autor em estabelecer conceitos precisos acerca das expressões/termos Estado unitário, confederação e federação, o que não era de todo comum em sua época.
Amaro Cavalcanti afirma ser o Estado unitário ou simples quando a “organização política de um povo em determinado território é a de um governo geral, único, com autoridade exclusiva sobre o todo”. Já a situação de um Estado simples “ligar-se a um outro ou a vários outros, e, então, sem perder cada um sua personalidade jurídica, estipularem cláusulas, de cuja aceitação mútua resulte uma nova entidade governamental com direitos próprios independentes, não só, vis-à-vis dos governos dos Estados unidos, como também, em relação a quaisquer outros Estados estranhos”, é o que se entende por vínculo federativo, como gênero a englobar as espécies confederação e federação.
Como explica Amaro, “apesar da consonância dos vocábulos e da similitude dos caracteres e dos atos” que se oferecem à primeira vista, o fato é que “confederação e federação, no atual momento significam coisas sabidamente distintas, ou mesmo regimes políticos diferentes, assim considerados no direito público dos povos modernos”.
Segundo ele, “coube à rica terminologia da língua alemã e às condições históricas da vida política desse povo ocasião memorável para o emprego de vocábulos, que fixassem a significação especial do que se devia entender por confederação e federação; designando-se a primeira pela expressão ‘Staatenbund’, e a segunda por ‘Bundesstaat’”.
Amaro tem a confederação de Estados como meio mais precário, muitas vezes temporário, de segurança e defesa comum dos membros confederados, com uma mínima renúncia de poder em prol da confederação pactuada. E afirma: “Quando, porém, os Estados soberanos, que se ligam, querem dar-se uma coesão e homogeneidade, renunciando em favor do poder federal a maior ou melhor parte das suas prerrogativas, a união, ora instituída, é uma federação ou Estado-federal.
Este pressupõe, não, um simples pacto, mas uma constituição federal, com um governo, dotado de todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, cuja ação estende-se, em maior ou menor escala, sobre os próprios negócios e interesses de cada um dos Estados federados”, tanto no que diz respeito aos negócios internos, como às relações externas do país.
É também interessantíssimo o passeio que Amaro Cavalcanti faz pela história, nos mostrando onde estão as origens assim como a evolução do que hoje chamamos de federação.
Ele trata do federalismo na Antiguidade e nos ensina: “organizações políticas, possuindo os caracteres, às vezes, de uma simples aliança ou liga temporária, e outras vezes, as condições de uma verdadeira confederação de Cidades ou Estados, são fatos, pode-se dizer, comuns ou frequentes nas histórias dos diversos povos antigos. Não querendo remontar além do berço da nossa civilização – Grécia, só esta oferece numerosas provas do nosso acerto; e, nomeadamente, a Amphyctionia, composta dos doze povos principais da raça grega, podia talvez ser mesmo invocada, como uma das origens históricas das uniões federativas dos Estados modernos”.
Leia também sobre Amaro Cavalcanti: O jurista federal.
Amaro também descreve fenômenos aglutinativos mais recentes, em forma de confederação ou federação, a exemplo das idas e vindas da história alemã e da Confederação Suíça. Até chegar na Federação Brasileira. Mas não sem antes passar pelo clássico exemplo dos Estados Unidos da América, para quem ele, a meu ver, tendo ali vivido e estudado, dedica o seu mais sincero entusiasmo. É sobre esse retrato entusiasmado da Federação estadunidense que conversaremos na semana que vem.
Marcelo Alves Dias de Souza é procurador Regional da República, doutor em Direito (PhD in Law) pelo King’s College London – KCL e membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras – ANRL