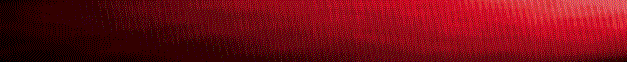Por Marcelo Alves
Em paralelo com a nossa evolução histórica, o desenvolvimento da filosofia jurídica brasileira baseou-se em ideias transplantadas de países da Europa Continental (Portugal, Espanha, França, Alemanha e Itália, sobretudo). Apenas recentemente (nos últimos 30 ou 40 anos), nossos juristas passaram a debater as ideias das escolas de pensamento típicas do common law, como a escola sociológica e o realismo jurídico americano.
Mas isso vem num crescendo.
A visão de que o direito é, ou deve ser, a maximização das necessidades sociais e a minimização das tensões e custos sociais, desenvolvida pela escola sociológica americana, tem sido cada vez mais aplicada, por exemplo, no direito penal brasileiro. Isso tanto partindo do legislador quanto sendo extensivamente aplicado por juízos e tribunais criminais brasileiros. Como registros específicos, temos o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, medida alternativa agora prevista no Código de Processo Penal para certa categoria de crimes/condutas “menos gravosos”, evitando o processo judicial tradicional e dando uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade. Ademais, partindo do princípio de que devem estar engajados nesse equilíbrio de interesses, os juízes e tribunais (incluindo o STF e STJ) também têm ponderado, em suas decisões, sobre os prós e os contras de uma condenação criminal, considerando a baixa significância do crime cometido, por vezes absolvendo o réu.
Doutra banda, nos últimos anos, a comunidade jurídica brasileira também tem dado maior atenção às ideias do realismo jurídico americano, consistentes, em termos gerais, na adoção de um método empírico de investigação científica em que (i) a realidade concreta é priorizada, (ii) a criação do direito por decisões judiciais é reconhecida (iii) e mesmo, por vezes, um papel secundário é atribuído à legislação. No Brasil, está se tornando bastante claro – “claro demais”, até – que o direito consiste em decisões tomadas por agentes detentores do poder estatal, incluídas, nesse conjunto, as decisões judiciais. Isso tem progressivamente desmascarado a doutrina ortodoxa segundo a qual os juízes apenas aplicam regras preexistentes.
Argumentam os “realistas brasileiros” que os juízes frequentemente tomam suas decisões de acordo com suas preferências políticas ou morais, apenas apontando a norma legal para fins de justificação/racionalização. Todo esse novo contexto nos demanda uma nova abordagem científica que se concentre tanto no que os juízes e tribunais dizem quanto no que eles fazem, bem como no impacto real que suas decisões têm nas mais amplas camadas da sociedade brasileira.
É verdade que as visões mais ecléticas da filosofia jurídica anglo-americana são mais adequadas à tradição brasileira. O renomado justice Benjamin N. Cardozo (em “The Nature of Judicial Process”, Yale University Press, 1921, edição fac-símile de 1991), afirmando que reconhecia “a criação do Direito pelo juiz como uma das realidades existentes da vida”, há tempos já indagava: “Onde o juiz encontra o Direito que incorpora em seu julgamento?”. E ele mesmo respondia: “Há momentos em que a fonte é óbvia. A regra que se enquadra no caso deve ser fornecida pela Constituição ou por lei”. Entretanto, ele pontificava: “É verdade que códigos e leis não tornam o juiz supérfluo nem seu trabalho perfunctório ou mecânico. Há lacunas a serem preenchidas. Há dúvidas e ambiguidades a serem esclarecidas. Há dificuldades e erros a serem mitigados, se não evitados”.
A verdade está a meio caminho entre os extremos. Juízes – nos Estados Unidos ou no Brasil – utilizam diversos critérios para proferir suas decisões, a depender das circunstâncias e fatos do caso em julgamento. Do ponto de vista teórico, não há diferença insuplantável entre os processos de produção de decisões judiciais nas tradições do civil law e do common law. E de uma coisa não há dúvida: do trabalho de preencher lacunas – ou seja, do processo utilizado pelo juiz para decidir um caso em que não há uma segura referência preexistente (lei ou precedente) – surgem decisões que criam algo novo, “make new law”. Alhures e aqui.
Marcelo Alves Dias de Souza é procurador Regional da República, doutor em Direito (PhD in Law) pelo King’s College London – KCL e membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras – ANRL