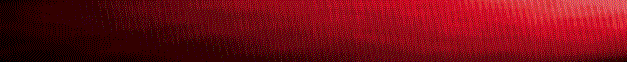Por Carlos Santos
Minha caligrafia é na verdade um hieróglifo. De nada adiantou a preocupação em melhorá-la, com uso de técnicas artesanais, ainda à infância. Tinha que passar horas “cobrindo” letras sobre papel transparente para ganhar forma.
Tempo perdido.
Os muxicões e batidos ao ouvido para torná-la compreeensível, inteligível, foram em vão. Sobrou esforço de minha santa mãezinha, que tinha arte à ponta do lápis e caneta, mas não a transferiu para mim. Sua caligrafia era técnica de ourives.
Pecado meu. Desinteresse meu. Poderia ser menos ruim.
Escrever virou necessidade, ganha-pão, uma razão de viver ao longo de décadas. Fui-me descobrindo. Na escola, não. Era apenas um aluno mediano, com espasmos de interesse pela leitura, história (em que colecionei 10), além de um olhar nas meninas do lado, apesar da timidez catatônica.
Pânico? De matemática. A tabuada até hoje é uma “Pedra de Roseta”. Números, fórmulas… argh! Tô fora!
A desavença com o português é antiga. Perdura até hoje. Mais do que conhecimento técnico, a ponto de dissecar as frases como se fora um legista do verbo, escrevo por intuição. Tenho pressentimento do deslize, mesmo que não saiba o porquê.
Apontar um advérbio, identificar substantivo acolá ou adjunto não sei das quantas ali… não conte comigo.
Sou um “semianalfa”.
É provável que minha dedicação e perfeccionismo tenham me poupado de estar entre os medíocres. Nem assim, estou livre do mico, da saia-justa, do erro crasso. O ridículo faz parte de minha trajetória. Muita coisa imperdoável a alguém que parece dominar o vernáculo.
Acho que disfarço bem.
Quem sabe muito é o professor e cronista “José Nicodemos” de Areia Branca. Ele é uma de minhas referências para melhorar a redação, tornar mais leve a escrita e fugir do gongorismo. Sou seu discípulo desde que nos conhecemos há mais de 23 anos na redação da Rádio Difusora de Mossoró.
Ficava arrasado com suas correções e reprimendas. Laudas inteiras picotadas por seus riscos e complementos. Com o tempo fui melhorando ou ele relaxando no rigor. Perdi o medo de perguntar, de admitir que não sei.
Abrir um dicionário é ritual comum, não um sacrifício ou decisão feito às escondidas.
Ler, ler muito. Escrever, escrever muito. Ler de tudo um pouco, questionar tudo; rabiscar e sublinhar livros, revistas, jornais etc. Até hoje é assim.
Nenhuma leitura é por acaso. Sempre tem meu olhar de aprovação ou discordância, exclamações nas bordas: “Gostei!” “Não concordo!” A simples leitura por lazer vira coisa séria.
Tornar tudo inacabado, revisar, revisar novamente. Continuar insatisfeito, questionar sempre, procurar fazer o melhor. É assim o hábito – paixão – de escrever e ler.
Nesse universo, a admiração por autores nativos como Dorian Jorge Freire e Jaime Hipólito. Não esquecer Vicente Serejo, o cronista diário, desde o Diário de Natal.
O encantamento com Guimarães Rosa, Machado de Assis, mas principalmente a frase telegráfica e cortante de Graciliano Ramos.
Stanislaw Ponte Preta, Antônio Maria, Rubem Braga, Vivaldo Coaracy, Truman Capote, Camus, Carlos Lacerda, Paulo Mendes Campos, Gibran, Hermann Hesse e tantos outros autores foram se enfileirando.
Bem antes deles, centenas de revistas em quadrinhos eram empilhadas e colecionadas em casa. Parte, camuflada em guarda-roupa, debaixo da cama e outros compartimentos secretos.
Para muitos pedagogos e mães, os “gibis” eram um atraso e tiravam nosso foco do conhecimento didático na escola. Meia-verdade.
Valeu ler a Tesouros da Juventude (Alexandre Dumas, Júlio Verne etc.), folhear a Enciclopédia Britânica e revistas como o Cruzeiro e Seleções. A fascinaçção pelo futebol com a Placar. A volúpia pela informação com o Almanaque Abril e os jornais que apareciam em casa em meio aos mantimentos do dia, num balde de alumínio trazido do Mercado Central ao lado de verduras, cereais, frutas.
Bote uma Playboy aí no “cardápio”. Sempre gostei das entrevistas dessa publicação mensal. Ninguém é de ferro.
Sem que eu percebesse estava “me formando”. Tornava-me lentamente um apaixonado pela escrita, mesmo que ainda sob desavença com a língua-pátria. A propósito, esse nosso litígio é incessante e sem armistício, que se diga.
Puxado pelo jornalismo, virei repórter político. Com a tarefa segmentada, a rápida constatação: não poderia me prender tão somente ao ramerrame de declarações óbvias, entrevistas enfadonhas e o factual de releases.
Ficou claro para mim que teria que conhecer a essência da política, ir à sua raiz e encontrar respostas para uma série de interrogações. Do contrário, eu me transformaria numa espécie de escrivão, apenas reproduzindo clichês: “Fulano disse, sicrano afirmou, beltrano declarou…”
Nasceu na necessidade a paixão pela ciência política, antropologia, sociologia e outros ramos do conhecimento. Dei-me conta da existência e o porquê de mergulhar na descoberta de Schopenhauer, Kant, Aristóteles, Platão, Raymundo Faoro, Oliveira Vianna, Gramsci, Darcy Ribeiro, Quentin Skinner, Hannah Arendt (minha devoção), Popper, Montesquieu, Roberto Campos, Baltasar Gracián, Maquiavel, Sun Tzu, Roberto da Matta, Rousseau, Victor Nunes Leal, Foucault, Jules Mazarin, Russell…
Tanto tempo depois, ainda tenho espírito da descoberta. Ainda me espanto com a própria ignorância e continuo acreditando que posso melhorar minha caligrafia, conhecimento e texto.
Antes, tudo era feito em papel almaço, com lápis em ponta grafite que geravam garranchos toscos. Depois veio a máquina datilográfica com suas teclas e a digitação em computador.
Hoje, passeio meus dedos longilíneos em telas multicoloridas que abrem e fecham janelas virtuais num smartphone e tablete. Nem de longe formo aqueles hieróglifos que eram o terror das professoras no caderno ou no quadro negro.
Nem assim me aproximo da perfeição ou algo razoável, tamanho o que exijo de mim.
Saí das cavernas. Mas sinto que ainda tenho que voltar a ela vez por outra, como um arqueologista. Há sempre alguma coisa a ser revirada, rebuscada e reestudada.
Nessa memória mais distante ainda estão meus principais utensílios de sobrevivência – mesmo que novas ferramentas e plataformas de informação me dêem a graça de ser universal e moderno. Daí continua saindo a base de minha palavra e letras.
Sei, que pouco sei. Se fosse um Sócrates, nada saberia.