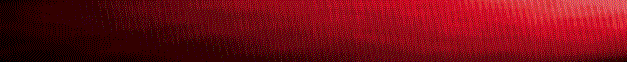Por Bruno Ernesto
Em outras oportunidades registrei um costume que tenho: enviar cartões postais.
Quem ainda, de fato, os envia?
Embora nossa Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – segundo noticiam – ande moribunda, do ponto de vista empresarial, a crise é do próprio mercado postal, somada a outros fatores que você pode se inteirar com mais propriedade em outras fontes de mercados de capitais e de política. Quanto a esta última, muito cuidado com a fonte.
Sim, por ser uma empresa estatal, além dos serviços padrões, mantém serviços que a iniciativa privada despreza solenemente, como por exemplo, transcrição em Braille e o chamado registro módico, que custa a metade do valor convencional de uma encomenda e é muito utilizado para envio de livros e material didático.
Os próprios Correios divulgaram que foi graças a essa modalidade de envio que muitos livreiros conseguiram manter seus negócios durante a pandemia da COVID-19. Os sebos e leitores agradecem penhoradamente.
Eis um dos papéis distintos que uma empresa estatal, numa área tão particular, preserva sem se ater tanto resultado comercial.
Por ser millennial, ainda alcancei as cartas de papel.
Era todo um processo: envelopes, papel pautado, caneta esferográfica de ponta fina, selos, cola e muita inspiração.
Numa carta manuscrita, não há curtidas ou seguidores, como nas redes sociais digitais. Leva e traz notícias boas, ruins ou indiferentes. É uma relação sinalagmática entre remetente e destinatário.
De tão sagrada, seu sigilo é um direito fundamental protegido constitucionalmente no artigo 5º, inciso XII, da nossa Constituição Federal de 1988.
De fato, há muito tempo não escrevo nem envio uma carta pessoal pelos correios. Me falta destinatário.
Recentemente, pus minhas mãos em mais de duas dezenas de cartas que troquei nos anos noventa e início dos anos dois mil, com uma querida amiga de Liège, na Bélgica, que conheci no colégio e criamos um grande laço de amizade durante o seu intercâmbio aqui no Brasil, há quase três décadas: Valèrie Warnier.
Embora tenhamos trocado correspondências por anos a fio, as cartas cessaram. Há anos não mantemos mais contato.
Das últimas notícias que recebi dela, soube que havia concluído a graduação como restauradora de obras de artes e ia se casar. Estava radiante.
A última carta que escrevi para ela – quase vinte anos após as últimas que trocamos -, escrevi poucos meses após o falecimento do meu pai, em 2019 – ela sempre perguntava pelos meus pais -, e dava conta de muitos anos sem notícia alguma minha. Entretanto, nunca postei. Ainda não.
Antes disso, estive próximo de sua casa em Liège, apenas com o seu endereço de memória. Porém, não lembrava o número de sua casa e não pude procurá-la.
Nos últimos anos, por quatro vezes, estive a pouquíssimos quilômetros da sua cidade, que fica nos arredores de Bruxelas e Antuérpia. Novamente não foi possível procurá-la.
Até procurei nas redes sociais, e não a encontrei.
Quem sabe numa próxima oportunidade, muito em breve, possa reencontrá-la e, pessoalmente, entregar a próxima carta.
Espero que só tenha notícias boas.
Bruno Ernesto é advogado, professor e escritor